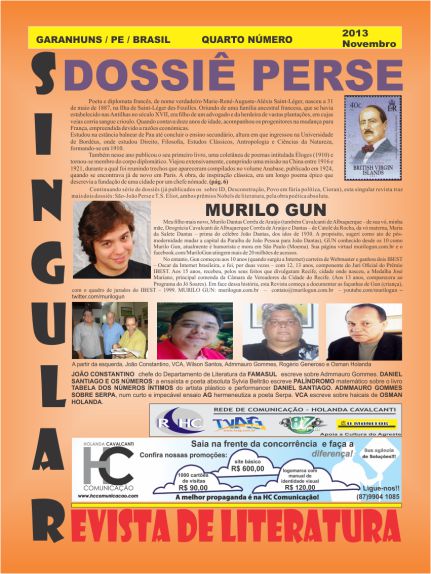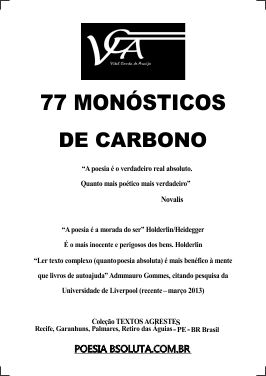Vivo em mim. Inteiramente, vitalmente. Em mim. No ser. Pouco sei (ou sinto muito) do que acontece lá fora. (Além de mim. Mesmo, em si mesmo). E não é evasão. É presença. Eu me presencio. Em mim, é o ser no ser. Não, no sendo, nem no sido.
Sou o mosteiro que me abriga. A monacal certeza de mim, sobretudo. Sou o monge de mim próprio. Desparamentado. Nu de dúvidas. E de certezas (que não contam mais).
Tenho sais, cilícios, silêncio: alimento.
Recebo-me e converso – sem o óbice da voz e o desvio da alteridade – muito comigo. Sei que sou eu mesmo, com certeza.
Presencio a palavra em ato, a ação verbal.
Estou na presença do verbo, sobretudo. E o verbo se faz poema, absolutamente.
Admmauro Gommes diz, no prefácio de Verbo de barro, que o meu verbo tem algo muito a ver com o de Deus (ou o bíblico, genético).
Concordo com os parentescos dos verbos. Não por arrogância ou vaidade. Por fé na palavra poética, vital. Embora, o meu seja de barro. O de Deus, de luz.
(Quando em pânico, ergo salmos ao pântano. E reconstruo o ânimo.
Estar em si é também delírio. É sobretudo ser-se. Não é delíquo. É entusiasmo. A ligação: enthos é o divino. A possessão pelo divino é um estado poético. O pertencimento ao divo id. Fonte do verbo. Não, da verborragia.
O lugar onde Deus está. E nessas estranhas regiões ininteligíveis, inexploradas, inefáveis, ubíquas, intensas, prenhes de desejos e mistérios, de interrogações de razões, de potenciais ainda não realizados de irrupções e interrupções, aldeia do imaginário, condado dos sonhos, cidade do si, ribeiras da alma, países do espírito.
Ao fazer, há dois anos, votos de solidão, fui coerente com o poeta que posso ser, embora longe disso me encontre deserto ainda.
Tenho os sais e os cilícios, as vestes nuas, o silêncio capital, as fronteiras do tempo, cidades aliterando-se, prédios, impropérios, improporções, tudo aquilo que leve ao absoluto poema (que um dia terminarei, antes do fim de mim).
Abrolhos, escarpas, brancos precipícios, beiras de abismos, pastos de asfódelos, léguas de agapantos, nenúfares, anêmonas, ofélias, dores, gritos, árvores
de alegria, deserto torpor, uivos que enriquecem, lírios indomáveis, ciorans, perses, a minha direita do verbo, opúncias, abelhas, todos me esperam, mas não os aguardo mais.
Se tenho sais e cilícios, se possuo o vital silêncio (e uma luz antiga e difusa que me clareia), o que mais quero? Anelo mais o quê? A não ser (o) nada. Que este não seja célere. Embora, inevitável.
Não que espreite tempestade como a de Jonas que o sepultou dentro de um peixe esquisito, dentro do mar. Jonas estava dentro duas vezes. Do peixe e do mar. Eu não estarei nenhuma. (Embora, no Bleu de France, pedi ao Capitão Pedro Brasileiro, que levasse a nave de 13 andares a um mar, ao menos um pouco encapelado. Pois é privilégio morrer no mar (que é morrer).
Sepultei, estrelas e lâmpadas. Não sepulto a mim. No momento inexato, me louvarei nas cordas da misericórdia, antes do naufrágio. E a vida nada é mais do que naufrágio (dixit Neruda).
Meu Norte é Cádis. Não, Hades.
Acredito na eficácia, ao menos, de um salmo.
E no fim dos espaços.
Como Gerardo Mello Mourão, creio em raparigas morenas com hibiscos nos cabelos. (Ele foi meu irmão secreto, meu outro pai poético). Eu, ele e Biró, sogro do meu irmão Pedro Cavalcanti de Albuquerque Corrêa de Araújo, comemos muito na lendária Carne de Sol, do aeroporto.
Desarvorados desertos encaro, com a palavra em riste. E na germinação do silêncio na horta do ser.
Sei que o mar é perse. (Perse, Saint-John Perse, Prêmio Nobel de poesia, o frânces sem fronteiras).
O mosteiro é um sono. Com claustro.
Inquiro: o que há no fundo do sono, além de idiotas sonhos. Nenhum Freud ainda tentou desvendá-lo. Alguma vigília secreta, uma espiã anã? Ou uma rua de dores?
Morei num mosteiro (de São Bento). O prior João Batista é monge excelso. Vi dilúvio de chamas, após a meia-noite do claustro. E me contive. Brasas geladas me atingiram. Não pude fugir, porque algemas pálidas me protegeram.
Ao humilde pó irei (talvez?), mas ao vale do degredo escaparei. Porque sou poeta absoluto.
Me toaleto em bacias de ágata branca. Nelas, fustigo a substância. Com sumos de rosa me alento. Oro a Deus com júbilo poético intenso.
Carpo o dia. Sei que a noite me será companhia.
Varoas brechosas acalento ainda. A vara do varão em riste afio.
E acentuo: carpe diem. Da rosa do dia – da flor noturna – não perca nem uma pétala, sequer. Mesmo que não queira. Mesmo que Odisseu esteja sepulto em Ítaca, continue a jornada. Em busca de outra infiel Penélope. Não perca, nunca, as matinas de si.
Se meus ossos doei, à varoa Eva, o que mais Deus precisa de mim. Ele decretou a vital solidão de Adão. Depois, expulsou-o.
Após leituras espirituais, breviários (não como os da decomposição do divino Cioran), exames inúteis de consciências (sempre culpadas). Após meditações longas de joelhos na tacha, após merenda e jardinagens convencionais, nada.
Só peso de sombras e rostos de máscaras oratórias de brasa ou rótula de enxada.
Então, as manhãs morreram. Tive que procurar uma irresidência noturna. Um não-lugar (conforme conceitua Sábastien Joachim).
Passei a ver só a dúvida. E gozei.
O frio me diverte. E sou amigo da chuva.
Por isso vivo em Garanhuns (a quase um quilometro acima do nível do Atlântico, defronte do qual moro, defronte da Dona Lindu). E por isso, também, vivo no Retiro das Águias, mais abaixo do que o mar. Então, ao ir do Castelo onde vivo em Garanhuns, à cabana de bambu sobre um pântano, onde escrevo nu e solitário, como uma ostra sem concha, no Retiro das Águias, simplesmente desço mais de um quilômetro, altitude abaixo.
No almoço, estranhei: tripas de cardeais. Os da tal incúria romana, que Francisco sarjou (câncer doutrinário elevado).
Após o ângelus, domini, dormi em mim. E sonhei com álgebras ascéticas.
Asperjei-me de hissopos ao dealbar.
Harmonias sangrentas abri. Sulcos de pianos expus. E o sangue das melodias jorrou.
Pecatum meun. Iniquidades minhas.
As pálpebras do jarro, as pestanhas do menorá, enfim, todas as luzes ofuscas dos candelabros começaram a gritar. Comecei a ejacular ladainhas (e jaculatórias daninhas). Do vaso do sono, recolhi mais pálpebras brancas.
Como não me digno morrer pelo amor. Morri.
Espero que Deus não me tenha. Embora...
Então, um cântico de látex soou meloso. Sobre as cavernas da alma.
Sobre ásperos ladrilhos ajoelhei-me. Lógico, com os joelhos de Capricórnio, a que o Zodíaco me destinou.
Sei que a “aqua litorais Christi, purissima” não me lava. Então... E não há chagas onde esconder-me. Repugno cela de usura. Não, clausura, que amo. E lágrimas desabrochando inutilmente detesto.
O canto do látego poético me salva.
The end. Dessa jornada nada heroica.
A Murilo Gun
e Cláudio Gaspar
Garanhuns, 26/08/2015